CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM PSICANÁLISE
AULA 3
Prof.ª Juliana Santos
CONVERSA INICIAL
Nesta etapa, propomos trabalhar com o volume XIV das Obras completas de Freud. Como veremos, neste volume Freud reúne uma coleção de artigos metapsicológicos. O período em que foi escrito esses artigos foi um momento importante na história da Psicanálise, pois, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, dentro dos muros dessa área do conhecimento eclodia outra guerra entre o pai da Psicanálise e seus principais discípulos, Adler e Jung.
A guerra dentro dos muros da Psicanálise foi narrada por Freud (1914) em seu artigo A história do movimento psicanalítico, em que ele responde aos confrontos teóricos de Adler e Jung, que quase levaram a cabo a recém-fundada Associação de Psicanálise Internacional (IPA).
A IPA foi fundada em 1910, após o segundo congresso de Psicanálise em Nuremberg, que contou com 60 participantes. O objetivo era proteger a Psicanálise, e o nome sugerido por Freud para zelar pelo futuro da associação e manter a área viva foi o de Jung, seu principal aliado na época. Como nos conta Zimerman (1999, p. 25), a Psicanálise se via ameaçada.
A ideia que inspirou a criação de uma entidade internacional com princípios ortodoxos a serem rigidamente cumpridos pelos seguidores foi o fato de que, em nome e na sombra do movimento da psicanálise, estava-se disseminando não só uma licenciosidade de envolvimento sexual como também a indiscriminada prática da “análise silvestre”.
Contudo, quatro anos após o início da IPA, Freud se desencanta pela figura do tão notável médico Jung, o qual ele mesmo chamará de “príncipe herdeiro”, e que, nesse momento, passou a ser descrito como uma “pessoa incapaz de tolerar a autoridade de outra, mais incapaz ainda de exercê-la ele próprio, e cujas energias se voltavam inteiramente para a promoção de seus próprios interesses” (Freud, 1914, p. 27).
Jung, ao longo de sua trajetória, dava sinais de inconformidade com a teoria psicanalítica e se mostrava incomodado com a teoria da sexualidade. Mas a grande divergência teórica ficou por conta da teoria da libido, pois Jung se negava a concebê-la como uma energia sexual e a presumia como um conceito designativo da tensão em geral, que, para Freud, soou como uma diluição do conceito a ponto de perder toda a sua especificidade. Garcia-Roza (2008, p. 13) explica assim:
As modificações introduzidas por Jung na psicanálise, Freud as compara com a famosa faca de Lichtenberg: “mudou o cabo e botou uma lâmina nova, e porque gravou nela o mesmo nome espera que seja considerada como o instrumento original”.
Portanto, a História do movimento psicanalítico é um importante artigo para os psicanalistas, pois Freud, de forma energética, afastou as inconsistências teóricas da Psicanálise, que estava sendo posta pelos próprios membros da IPA. E o que vem em seguida é a própria revisão da teoria que foi redigida a partir de 1915, com a apresentação dos Artigos sobre a Metapsicologia.
TEMA 1 – O NARCISISMO
A teoria do narcisismo foi apresentada em 1914, no artigo Um Introdução ao Narcisismo. Contudo, já tecendo o seu conceito desde os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando, em uma nota de rodapé, escrita em 1909, Freud apontou para um estádio entre o autoerotismo e o amor objetal.
O narcisismo está na base de vários conceitos psicanalíticos, assumindo uma função primordial na constituição do eu. O termo vem da mitologia grega, cuja história é de um jovem de nome Narciso que se apaixona por sua própria imagem refletida no rio e morre indo ao encontro dela.
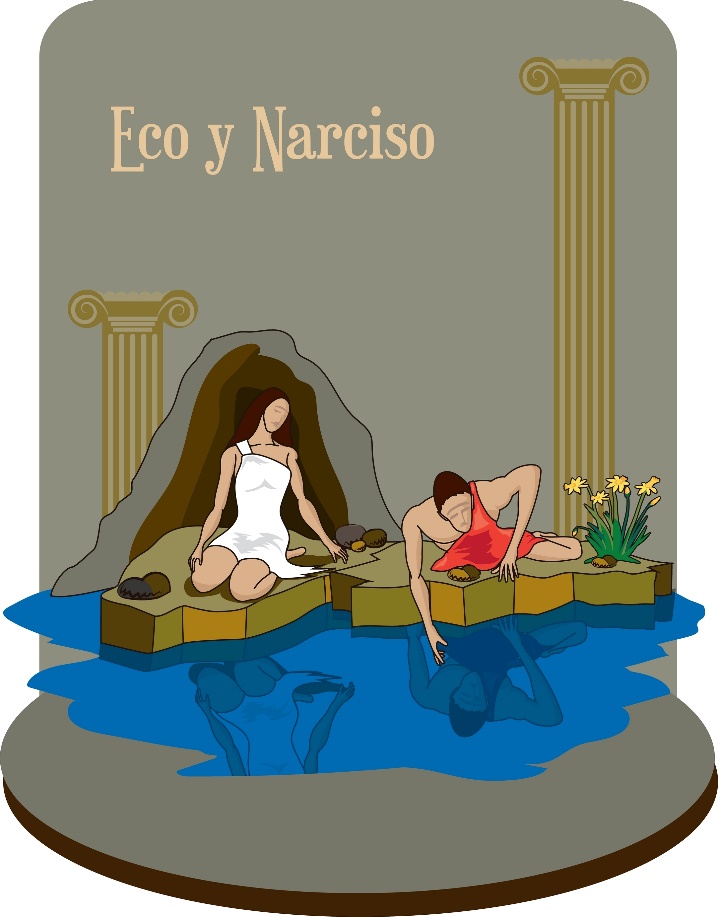
Para situarmos o estádio do narcisismo, temos que remeter ao texto dos Três ensaios, em que Freud (1905) contextualiza o estádio do autoerotismo como sendo uma condição da sexualidade infantil, na qual a criança encontra satisfação no próprio corpo, sem ter que recorrer a objetos externos.
Portanto, o autoerotismo é o estado inicial da libido, em que as pulsões se satisfazem no próprio corpo. Para que esse estádio inicial possa se abrir para dar início a outro estádio, é necessário que uma nova ação psíquica se acrescente ao autoerotismo – o eu.
O eu não está dado, ou seja, ele não nasce de forma originária. Como enfatiza Lacan (1957), a criança nasce em sua “estúpida e inefável existência”, um pedaço de carne, sendo o narcisismo a condição essencial para a formação do eu. O investimento dos pais, ou de quem exerce essa função, faz surgir o narcisismo simultaneamente ao eu. Essa primeira moção narcísica funda o eu como um grande reservatório de libido, pelo qual, posteriormente, parte dessa libido narcísica se transforma em libido do objeto.
Essa constatação é importante para a teoria, pois, no autoerotismo, a pulsão era anarquista, cujo interesse não estava direcionado, pois o eu e o objeto não estavam instituídos, era pura busca de satisfação das pulsões parciais. Mas, ao ser instituído o narcisismo, o eu passa a ser o seu principal objeto de investimento libidinal. Nesse sentido, o sujeito não morre porque ele se ama, e não porque tende a um princípio de autoconservação.
O investimento no eu tornou-se questão para Freud desde o Caso Schreber, no qual ele buscava uma maior compreensão sobre o investimento da libido no eu, que produzia um delírio de grandeza. E, por meio da elaboração do conceito do narcisismo, ele evidencia que o delírio de grandeza se trata de um desvio do investimento libidinal ao mundo externo, no qual este é levado a um superinvestimento no eu do sujeito. Por meio da concepção da teoria do narcisismo, ele evidencia que o movimento de retirada de libido dos objetos externos só poderia ser em um segundo tempo do narcisismo, ou seja, algo que seria sucessor ao narcisismo primário, que é o narcisismo fundamental para instituir o eu como objeto.
TEMA 2 – AS CONSIDERAÇÕES SOBRE O NARCISISMO
- Narcisismo primário – são os primeiros investimentos libidinais dos pais nas crianças, culminando na integração de um corpo que, antes, no autoerotismo, se apresentava fragmentado, e, agora, passa a ser um corpo unificado que assume, no psiquismo, o lugar do eu. O eu é, em primeiro lugar, uma superfície corporal;
- Narcisismo secundário – trata-se da libido que retorna ao eu, ou seja, “a libido que anteriormente investia o eu passa a investir objetos externos e posteriormente volta a tomar o eu como objeto” (Garcia-Roza, 2008, p. 49).
Ainda sobre o narcisismo primário, Freud (1914, p. 57) evidencia que a origem desse investimento nos filhos é a tentativa narcísica dos pais em resgatar o seu próprio narcisismo perdido.
Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há muito abandonaram. [...] Assim eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho - o que uma observação sóbria não permitiria – e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele.
Portanto, o eu que se forma por meio do narcisismo primário e que efetua a unidade corporal é o eu da projeção do eu ideal dos pais.
- Eu ideal – o eu do sujeito funda-se por essa inscrição narcísica dos pais, o eu ideal, um estado de onipotência ao qual Freud relaciona o termo “vossa majestade o bebê”, ao passo que, ao longo da vida, o eu ideal fica apenas como uma inscrição original do narcisismo que os pais tentam resgatar nos filhos;
- Ideal de eu – surge como uma instância diferenciada do eu, e sua função é ditar moldes para o eu, a fim de recuperar a posição perdida do eu ideal. “O que ele projeta diante de si como sendo seu é o substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal” (Freud, 1914, p. 58).
Portanto, o ideal do eu, vale lembrar, não surge para substituir o eu ideal, lugar narcísico fundamentalmente perdido, mas inscrito psiquicamente e insuperável, pois a régua que medirá o ideal do eu será posta pelo seu eu ideal, do qual o sujeito jamais abrirá mão (Freud, 1914, p. 62).
O desenvolvimento do ego consiste num afastamento do narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse estado. Esse afastamento é ocasionado pelo deslocamento da libido em direção a um ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação provocada pela realização desse ideal.
TEMA 3 – A PULSÃO
A teoria da pulsão apresentada no texto As pulsões e seus destinos é o primeiro texto que compõe os cinco artigos da metapsicologia freudiana e foi considerado por Freud a sua mitologia, isto porque se trata do conceito mais original de sua teoria, e é nisso que somos lançados no fogo do “caldeirão da bruxa” – a bruxa da metapsicologia.
O primeiro ponto de que devemos ter clareza é que, em algumas traduções, o termo alemão Trieb foi erroneamente traduzido para o português por instinto, sendo que, no alemão, a tradução de instinto é Instinkt. Assim, o correto ao ler nas versões em português é substituir a palavra instinto por pulsão.
Portanto, a pulsão não pode ser confundida por instinto, pois trata-se de conceitos distintos. O instinto é impulso no interior do animal, que o leva a executar de forma automática atos adequados às necessidades de sua sobrevivência e da sua prole. A pulsão, como veremos a seguir, diz respeito a uma carga energética que se encontra na origem da atividade motora do organismo, ou seja, ela não é um estimulo que atua sob efeito de um impacto único e se resolvendo por uma só ação. A pulsão não incide por meio de um impulso momentâneo, ela é uma força constante que existe no âmago da constituição psíquica. Contudo, não é a sobrevivência que estará em jogo, e, sim, a satisfação.
Assim, o conceito de pulsão foi sendo elaborado ao longo da obra freudiana e sua construção não se limita a noções descritivas, visto que ela acolhe uma realidade não observável, ou seja, refere-se a uma ficção teórica. É assim que Garcia-Roza a descreve (2009, p. 115).
São, portanto, autênticas ficções científicas. Esse é o caso da pulsão (Trieb) em Freud: ela nunca se dá por si mesma (nem a nível consciente, nem a nível inconsciente), ela só é conhecida pelos seus representantes: a ideia (Vorstellung) e o afeto (Affekt). Além do mais, ela é meio física e meio psíquica. Daí seu caráter “mitológico”.
Freud (1915, p. 67) conceitualiza a pulsão numa encruzilhada “situada na fronteira entre o mental e o somático”, ou seja, um
representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo.
Garcia-Roza (2009), a respeito desse conceito da pulsão, nos remete ao texto de Freud, O inconsciente (1915), no qual foi posto que a pulsão nunca pode tornar-se objeto da consciência, e que, mesmo no inconsciente, ela é sempre representada por uma ideia (Vorstellung) ou por um afeto (Affekt) (p. 116). Desse modo, a pulsão só pode ser acessada por meio de seus representantes. Isso significa que, no mecanismo do recalque, o que é recalcado não é a pulsão, mas o representante ideativo da pulsão e o afeto.
3.1 O DESMONTE DA PULSÃO
Freud (1915) descreve a pulsão como uma força constante no psiquismo em busca de satisfação. A pulsão constitui-se em função de quatro aspectos: fonte, pressão, objetivo e objeto, pois é com esses referenciais que poderemos estabelecer sua concepção psicanalítica.
- Fonte (Quelle): sua origem é corporal e não psíquica. “Embora as pulsões sejam inteiramente determinadas por sua origem numa fonte somática, na vida mental nós as conhecemos apenas por suas finalidades” (p. 74);
- Pressão (Drang): a esse respeito, Freud escreve que “compreendemos seu fator motor, a quantidade de força ou a medida da exigência de trabalho que ela representa” (p. 73).
O caráter da pulsão é ativo, mesmo quando a tratamos por pulsão passiva. A rigor, ela é ativa, o que surge como passivo na pulsão é o objetivo (a exemplo, o caso do masoquismo). A pressão é a própria atividade da pulsão que coloca em funcionamento o aparelho psíquico. “A pressão é o elemento motor que impele o organismo para a ação específica responsável pela eliminação da tensão” (Garcia-Roza 2009).
Em relação ao objetivo (Ziel), Freud afirma que o objetivo da pulsão é sempre a satisfação,
embora a finalidade última de cada pulsão permaneça imutável, poderá ainda haver diferentes caminhos conducentes à mesma finalidade última, de modo que se pode verificar que uma pulsão possui várias finalidades mais próximas ou intermediárias, que são combinadas ou intercambiadas umas com as outras. (p. 73)
Em termos econômicos, Garcia-Roza (2009, p. 121) sublinha que a satisfação é obtida pela descarga de energia acumulada, regulada pelo princípio de constância. Esse é, porém, o objetivo geral ou objetivo último da pulsão. Mas há ainda os objetivos específicos ligados a pulsões específicas, assim como podemos distinguir também objetivos intermediários.
Com base nos Três ensaios e na descoberta da sexualidade infantil, nos quais encontramos a noção das pulsões parciais, o objetivo das pulsões será alterado em relação à fonte e ao objeto, de modo que o objetivo será explicado por meio de uma “ação específica”, que, na pulsão de autoconservação, seria aquela que eliminaria a tensão ligada a um estado de necessidade; tratando-se do objetivo de uma pulsão sexual, seria menos específico por ser sustentado e orientado por fantasias (Garcia-Roza, p. 121).
Objeto (Objekt), Freud descreve o objeto da pulsão como “a coisa em relação à qual ou através da qual a pulsão é capaz de atingir sua finalidade.” Isso é o que há de mais variável numa pulsão. Tomando, ainda, a análise de Garcia-Roza (2009) sobre esse tema, o autor declara que o objeto é concebido como um meio para que o objetivo seja atingido, assim, “o objeto pode ser real ou fantasmático”.
Sob essa perspectiva, o objeto na Psicanálise toma uma dimensão mais complexa. Assim, vemos que, nos Três ensaios, o objeto pode estar relacionado a uma pessoa, ou uma parte de uma pessoa pode ser real ou fantasmática. Desse modo, ele perde qualquer especificidade, não se opondo àquilo que é subjetivo, como também pode ser uma pessoa determinada (“objetiva”), como pode ser o equivalente simbólico de uma parte do real.
O objeto no sentido objetal coloca em questão não apenas a relação do objeto com o objetivo, mas, sobretudo, o modo de relação da pulsão com seu objeto e mais especificamente do indivíduo com o seu mundo (p. 123).
Dessa maneira, a pulsão oral implica não somente um objeto, mas sobretudo um modo de relação objetal: a incorporação. Os Três ensaios sobre a sexualidade deram ênfase à distinção entre as fases pré-genitais da libido, que se caracterizavam por um modo de relação objetal (autoerótica, narcísica, objeto parcial etc.), e a fase genital, onde ocorre uma escolha de objeto. Nesta fase, o objeto não é mais um objeto parcial, mas uma pessoa (ou algo que funcione como um objeto total). Nesse sentido, falar-se-ia não mais em objeto da pulsão, mas em objeto de amor. (Garcia-Roza, 2009, p. 123)
Assim, “objeto”, na teoria psicanalítica, não é aquilo que se oferece em face da consciência, mas algo que só tem sentido quando relacionado à pulsão e ao inconsciente.
A teoria da pulsão estabelece a energia que faz funcionar o aparelho psíquico pela busca constante de satisfação, contudo, trata-se de uma satisfação já vivida, pela qual ela visa resgatar.
3.2 PULSÕES DO EU E PULSÕES SEXUAIS
Na primeira teoria das pulsões, Freud (1915) distingue as pulsões do eu e as pulsões sexuais. As pulsões de eu não podem ser confundidas como pulsão que emanam do eu, pois, como vimos anteriormente, a fonte da pulsão é somática. Por isso, o correto é pensar como uma pulsão de autoconservação, já que estão designadas as necessidades ligadas às funções corporais, cujo objetivo é a conservação da vida do indivíduo. Sendo assim, elas se satisfazem com objetos reais. Por exemplo: alimentar-se seria uma finalidade dessa pulsão, assim, ela seria regida pelo princípio de realidade.
Já no caso das pulsões sexuais, essas estariam a serviço do princípio de prazer, pois os objetos da sua satisfação podem ser reais ou fantasmáticos, e o seu alvo é a satisfação do órgão. Essas pulsões surgem quando a satisfação não é mais apenas em suprir a necessidade, mas é em busca de repetir a satisfação. Por exemplo: quando o bebê chora, não é mais apenas por fome, mas em reviver a experiência de prazer vivenciada quando mama.
A Psicanálise lida com os efeitos das pulsões sexuais, pois é delas que emanam os conflitos psíquicos. De início, as pulsões sexuais se apoiam nas funções de autopreservação e vão ganhando a sua autonomia gradualmente. Por exemplo: de início, o choro da criança é de autopreservação, mas, gradualmente, esse choro vai na direção de obtenção de satisfação. As pulsões passam da parcialidade autoerótica para o narcisismo. Assim, os destinos das pulsões são apresentados por Freud em quatro caminhos:
- Reversão ao seu oposto, o qual é desdobrado com base em duas operações: mudança da atividade para a passividade e reversão de seu conteúdo;
- Retorno ao próprio eu;
- Recalque;
- Sublimação.
Contudo, a concepção do conceito do narcisismo, no qual o eu se torna objeto de investimento libidinal, esse dualismo pulsional vai sendo, progressivamente, unificado em uma só pulsão – pulsão de vida –, pois, como Freud identifica, toda pulsão é sexual. E, como veremos mais adiante, Freud institui um novo dualismo pulsional: Pulsão de vida x Pulsão de morte.
TEMA 4 – RECALCAMENTO
Seguindo nossa proposta de estudar os artigos de metapsicologia, o que segue é o tema do recalque. Freud postula o recalque como um dos destinos da pulsão.
Freud considera o recalcamento o pilar da teoria psicanalítica. No Dicionário de Psicanálise, Roudinesco (1998, p. 647) descreve o recalque como um processo que visa manter no inconsciente todas as ideias e representações ligadas às pulsões e cuja realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do funcionamento psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer.
O recalque sempre foi empregado por Freud, desde o período pré-psicanalítico, mas sua elaboração vem após o abandono da prática da hipnose, quando, de fato, ele passa a se confrontar com a resistência. O que Freud conclui é que os pacientes não conseguiam se recordar, não porque certas lembranças haviam sido apagadas de suas memórias, mas, na verdade, havia um mecanismo de defesa que impedia que essas lembranças voltassem à consciência.
Assim, Freud distingue o recalque como um mecanismo de defesa com base em Interpretação do sonho (1900), pois, nesse momento, ele especifica a operação do recalcamento pela sua condição de evitação de lembrança, ou seja, uma repetição da fuga à percepção penosa. Garcia-Roza (2009, p. 90) explica da seguinte maneira:
No caso de o aparelho psíquico ser atingido por um estímulo que provoque uma excitação dolorosa, ocorrerá uma série de manifestações motoras que, apesar de inespecíficas, poderão afastar o estímulo causador da experiência desprazerosa. Se a mesma experiência se repetir, isto é, se a percepção do estímulo voltar a se apresentar, ocorrerá uma repetição dos movimentos que anteriormente produziram seu afastamento. [...] Evitar a lembrança é um processo análogo à fuga da percepção. Esse mecanismo que é colocado em funcionamento através da memória é que Freud aponta como o modelo do recalcamento e que só pode ser efetuado pelo sistema Pcs/Cs, pois é a ele que pertence a função inibidora.
Em 1915, a concepção do recalque é retomada por Freud, quando ele se indaga sobre o porquê da pulsão tomar tal destino. Ou seja, por que uma satisfação, que deveria ser sentida como prazer, deve ser recalcada a ponto de ser tornar inoperante? E a resposta apontada mostra que o caminho para a satisfação representa mais desprazer do que ganho de prazer. Dessa forma, Garcia-Roza (2008, p. 175) conclui que produzir prazer num lugar pode produzir desprazer em outro lugar, portanto, o que estabelece a condição para o recalque é a potência do desprazer, ou seja, quando o desprazer é maior do que o prazer da satisfação.
Contudo, o recalque não impedirá que a pulsão consiga obter satisfação, pois, como Freud foi demostrando ao longo de toda sua obra, o aparelho psíquico é um aparelho de transformação e, nesse sentido, o próprio recalque não estaria contra a satisfação pulsional, porém, a satisfação se dá de forma indireta.
4.1 O RETORNO DO RECALCADO
Para que o recalque ocorra é preciso que previamente haja existido um recalque originário, ou seja, marcas psíquicas inconscientes que funcionem como polo de atração para o recalque propriamente dito. O recalque primário, então, é uma demarcação inconsciente, que nunca foi simbolizada, mas produzirá uma rede que se opõe à significação, pela qual se soma ao conteúdo recalcado. E, no inconsciente, o recalcado não elimina as representações da pulsão recalcada, pelo contrário, ele continua exercendo força contra os outros sistemas (P-cs/Cs), e logra retornar à consciência. A esse retorno Freud nomeou de retorno do recalcado.
O retorno do recalcado, porém, não é à consciência em sua forma original, ele sofre uma deformação, pois só dessa forma ele conseguirá desviar da censura imposta pela consciência.
Garcia-Roza (2008, p. 2005) evidencia o retorno do recalcado da seguinte forma:
O retorno do recalcado se faz de forma deformada, distorcida, e não como retorno do “mesmo”, do idêntico. Aquilo que retorna, o faz sob a forma de um compromisso entre os dois sistemas, de tal modo que o desejo recalcado encontre uma expressão consciente, mas ao mesmo tempo não produza desprazer. O retorno do recalcado não se faz, portanto, devido a uma falha no sistema defensivo, mas, precisamente porque foram produzidos derivados submetidos a deformações tais que o caráter ameaçador do recalcado original tenha sido suficientemente atenuado a ponto de ultrapassar a barreira imposta pelo eu às representações recalcadas.
O retorno do recalcado produz, pela distorção, uma satisfação tanto à consciência quanto ao inconsciente, e está intimamente ligado ao sintoma.
O sintoma é o lugar do sofrimento que proporciona satisfação sexual para o neurótico sem que ele o saiba. É um lugar que contém uma verdade para o sujeito, e, dependendo da interpretação que ele lhe der, procurará um médico ou um analista, ou ainda um padre ou um pai-de-santo. (Quinet, 2009, p. 123)
TEMA 5 – O INCONSCIENTE
O funcionamento do inconsciente é a grande descoberta freudiana e a base do princípio do tratamento na psicanálise. Em nossos dias, ainda há quem busque localizar o inconsciente em alguma parte cerebral, mas precisamos ter a clareza de que, quando falamos em inconsciente e no aparato psíquico formulado por Freud, estamos lidando com uma ficção teórica, cujas localizações são puramente virtuais.
Freud, por meio da análise do sonho, revelou que o inconsciente funciona por meio de mecanismos específicos, e que seu conteúdo é formado por desejos proibidos que só podem ser satisfeitos passando por um processo de deformação, para driblar a censura da consciência. Dessa forma, pela análise e interpretação do sonho, Freud constata que os sintomas neuróticos obedecem a mesma lógica da formação do sonho, sendo assim, os sintomas também satisfazem um desejo proibido à consciência do sujeito.
Em 1905, nos Três ensaios, Freud alcança novas elaborações a respeito da pulsão, nos quais ele a coloca como uma força constante e irredutível sobre o psiquismo, que leva o sujeito a ir sempre em busca de satisfação. A relação entre o inconsciente e a pulsão vai sendo definida ao longo das obras de Freud e no texto O inconsciente, publicado nos Artigos sobre a metapsicologia (1915). Freud se dedicou a escrever o seu conceito, sobre o qual, Pierre Kaufmann (1996, p. 265), em seu dicionário enciclopédico de psicanálise, faz o seguinte recorte:
Instituído pela ação do recalcamento, o inconsciente é, de fato, constituído por "[...] representações da pulsão que querem descarregar seu investimento, portanto por moções de desejo. Essas moções pulsionais são coordenadas umas às outras, persistem umas ao lado das outras sem se influenciar reciprocamente e não se contradizem entre si".
E complementa seu entendimento sobre o inconsciente, distinguindo-o da pulsão pela seguinte colocação:
A pulsão é de essência inconsciente. Não pode se tornar consciente senão pela mediação de uma representação psíquica, a qual permanece tributária do processo primário e, consequentemente, essencialmente submetida ao trabalho da condensação e do deslocamento.
Laplanche e Pontalis (2001, p. 236) também nos ajudam em nosso estudo sobre o conceito de inconsciente.
O inconsciente freudiano é, em primeiro lugar, indissoluvelmente uma noção tópica e dinâmica, que brotou na experiencia do tratamento. Este mostrou que o psiquismo não é redutível ao consciente e que certos “conteúdos” só se tornam acessíveis a consciência depois de superadas as resistências.
Portanto, por meio desses autores, podemos compreender que o inconsciente freudiano tem uma disposição topológica e dinâmica, cuja energia se direciona no sentido de obter satisfação posta pelas representações pulsionais, visto que o inconsciente é atemporal, ou seja, não obedece a organização cronológica do tempo, nem se inscreve a negação, isto é, ele funciona por um afirmação, na qual exclui a diferença dos sexos. Nesse sentido, o inconsciente opera em sua própria realidade psíquica, que, por vez, substitui a realidade externa. Assim, o inconsciente “obedece a regras próprias que desconhecem as relações lógicas conscientes de não contradição e de causa e efeito, que nos são habituais” (Kaufmann, 1996, p. 265).
Contudo, Freud (1915, p. 98) enfatiza que
tudo que é reprimido deve permanecer inconsciente; mas, logo de início, declaremos que o reprimido não abrange tudo que é inconsciente. O alcance do inconsciente é mais amplo: o reprimido é apenas uma parte do inconsciente.
Isso significa dizer que as representações pulsionais que buscam satisfação são apenas uma parte do inconsciente, mas que outras partes escapam dessas representações. Essa constatação foi fundamental para que, mais tarde, Freud pudesse formular um novo modelo de aparelho psíquico, pois, do ponto de vista estrutural, o modelo da primeira tópica não comporta a teoria das pulsões, já que o inconsciente não está inserido apenas ao recalcado, mas ele abrange parte do eu e do supereu, sendo um verdadeiro reservatório das pulsões. Mas deixaremos para nos aprofundar a respeito da segunda tópica na próxima etapa.
NA PRÁTICA
O inconsciente sempre foi uma questão polêmica para a psicanálise. Primeiro pela dificuldade em abordá-lo, visto que só é pelo desvio que nos aproximamos dele; segundo, pela complexidade de conceituá-lo. Lacan, no entanto, ao trazer a ciência linguística para o seu campo de análise, pôde dar novos contornos ao inconsciente e tirá-lo de vez dos ares místicos e intocáveis. Ele vai dizer que o inconsciente está na fala do sujeito, pois ele é estruturado como linguagem, e, por assim ser, o psicanalista pode operar pela fala do analisando, ou seja, é como Freud demostrou – ele surge nos atos falhos, nos tropeços, nos esquecimentos ou mesmo no silêncio.
Certa vez, um analisante relatou que, na saída da igreja, um guardador de carro lhe pediu dinheiro, mas ela tinha esquecido a sua carteira e o homem a xingou, o que lhe deu muita raiva. Mas, passam os dias e aquela situação não lhe saía da cabeça. Conta que tinha vontade de voltar lá e lhe perguntar com que direito ele fizera isso, pois ela tinha acabado de sair da igreja, estava em paz. Por que ele achava que as pessoas eram obrigadas a lhe dar dinheiro?
Sua analista, então, pergunta o porquê desse acontecimento ter lhe aborrecido tanto e se ela já havia vivenciado algo assim. Prontamente, ela responde que não, mas, logo em seguida, ela associa a um pedinte que encontrou em uma viagem e que, pelo mesmo motivo de não andar com dinheiro, não teve nada para lhe dar, e o pedinte fala um palavrão para ela, pensando que ela não entenderia o seu idioma. Então, a analista pergunta:
- Analista – quando você escuta o palavrão, o que lhe vem à mente?
- Analisante – eu pensei, é por isso que está nessa condição!
- Analista – e você pensou o mesmo para o guardador de carro?
- Analisante – eu acho que sim... credo, né?! Eu tinha acabado de sair da igreja...
A culpa e a recriminação fizeram com que ela recalcasse os seus pensamentos (“é por isso que está nessa condição”), mas, a angústia retornava como um sintoma, em que ela buscava culpar o outro para encobrir o seu real desejo.
FINALIZANDO
Nesta etapa, vimos que o narcisismo constitui um estádio posterior ao autoerotismo, pois ele surge sob a condição de uma nova ação psíquica que promove a constituição do eu como uma unidade corporal. Assim, o eu se forma por meio do narcisismo primário, que é consequência da projeção do eu ideal dos pais.
Vimos também que a pulsão está situada na fronteira entre o somático e o psiquismo. Freud a desmonta em quatro partes: a fonte, no corpo; a força, que é constante no psiquismo; o objetivo, que é sempre a satisfação; e, por último, o objeto, que é o mais variável, visto que ele é escolhido para alcançar o seu objetivo.
Estudamos o recalque como sendo um dos principais mecanismos de defesa e responsável por dividir o sujeito: consciente e inconsciente. Contudo, o que é recalcado não fica de forma passiva no inconsciente, mas ele busca retornar à consciência pelos mesmos mecanismos dos sonhos, em que uma ideia recalcada sofre uma distorção e retorna pelas formações do inconsciente.
Por fim, buscamos conhecer o conceito de inconsciente e como ele foi apresentado na primeira tópica, como sendo parte recalcada, privada de vir à consciência por conter elementos proibidos para a consciência, mas Freud se dá conta de que o inconsciente é muito mais amplo e não se restringe apenas ao conteúdo recalcado.
REFERÊNCIAS
Garcia-Roza, L. A. Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009.
Garcia-Roza, L. A. Metapsicologia freudiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. v. 3.
Kaufmann, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
Laplanche; Pontalis. Vocabulário de psicanálise. São Paulo: Martins Fonter, 2001.
Sigmund, F. (1914). Introdução ao narcisismo. In: Sigmund, F. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIV.
Sigmund, F. (1915). Pulsão e suas vicissitudes. In: Sigmund, F. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIV.
Sigmund, F. (1915). O recalque. In: Sigmund, F. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIV.
Sigmund, F. (1915). O inconsciente. In: Sigmund, F. Obras completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. XIV.
Roudinesco, E. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.